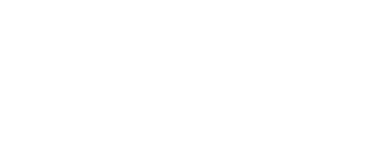Os Conselhos Gerais das Universidades são necessários?
5 de março | 15:30 horas | Escola de Direito da Universidade do Minho | Sala 003
Relator: Paulo Peixoto
Conclusões resumidas do debate de 5 de março
O debate foi moderado por Filipa Longras, presidente da associação ELSA-UMinho e estudante de Direito da Universidade do Minho e contou com as presenças de António Magalhães (CIPES e Universidade do Porto), Paulo Peixoto (CES da Universidade de Coimbra) e António Cândido Oliveira (Escola de Direito da Universidade do Minho). Estiveram igualmente presentes atuais conselheiros e ex-membros de conselhos gerais de universidades públicas (Universidade do Minho, incluindo o atual presidente do conselho geral; e Universidade do Porto).
O debate iniciou-se com a intervenção de António Magalhães. O investigador do CIPES centrou a sua intervenção no tema “Governo e governação do ensino superior – a reconfiguração da gestão universitária em Portugal”. Começou por abordar o “boardism” enquanto mecanismo de diminuição do poder dos académicos, aumento do poder gestionário e reforço do poder dos stakeholders externos no âmbito da gestão das Instituições de Ensino Superior (IES). Recuou há 3 ou 4 décadas atrás para lembrar o período em que, em Portugal, e na maioria dos países europeus, as IES eram governadas por académicos, atuando o estado como uma espécie de tampão, protegendo as universidades das influências externas. A inversão da tendência de insensibilidade ao exterior, a que hoje se assiste, foi potenciada pelo RJIES, que promoveu a reforma da governação, com implicações no sistema e nas IES. O RJIES, influenciado pela narrativa da nova gestão pública, promove a alteração das relações entre o estado e as IES, e propõe alterações profundas no seio das IES (redução da representatividade dos corpos constituintes das IES; transformação do senado em órgão opcional e com funções consultivas; e participação dos membros externos no processo de tomada de decisões). A influência da narrativa da nova gestão pública no desenhar da gestão académica traduziu-se na promoção de “reitores fortes”; na nomeação em detrimento da eleição dos órgãos de gestão e do governo; no enfraquecimento da representatividade dos corpos constituintes das IES; no fortalecimento do papel dos responsáveis máximos de Escolas/Faculdades/Departamentos como gestores; na possibilidade de adotar estruturas organizacionais opcionais de monitorização e de controlo. A adaptação das IES ao RJIES levou ao reforço das lógicas organizacionais (capacitação dos órgãos de gestão em detrimento dos órgãos colegiais); à centralização dos processos de tomada de decisão; ao aumento da influência dos membros externos. Contudo, como mostra a investigação desenvolvida no CIPES, o ensino e a investigação continuam a ser, na generalidade dos países, áreas preservadas em relação à influência crescente dos membros externos.
Mas ao RJIES estão igualmente associadas outras narrativas que não apenas a da nova gestão pública. A narrativa new-weberiana, a narrativa da nova governação e a narrativa colegial, por exemplo. Essas narrativas colocam várias questões importantes: i) a contraposição da narrativa da interligação público-privado à narrativa público versus privado; ii) o foco nas relações em rede por oposição às relações hierárquicas; iii) a passagem da retórica do comando e controlo para a linguagem da negociação e da persuasão; iv) a substituição das competências de gestão pelas competências de capacitação. António Magalhães demonstrou e exemplificou de que forma o RJIES materializou as implicações dessas narrativas nestas 4 dimensões. Conclui afirmando que no caso português, replicando-se uma tendência europeia, as directrizes da nova governação foram postas em prática para contrabalançar os efeitos da nova governação. A perda de colegialidade explica, em grande medida, a emergência das características da nova governação, mas os académicos encontraram no novo contexto formas para compensar alguma da colegiabilidade perdida. Nesta perspectiva, o RJIES não corresponde a uma “versão dura” da nova gestão pública.
Paulo Peixoto começou por destacar algumas das conclusões retiradas do estudo desenvolvido pelo NEDAL e pelo CES. Designadamente a necessidade em reconhecer que as primeiras experiências relativas à existência e funcionamento dos conselhos gerais das universidades públicas são muito diferenciadas entre si e muito diferentemente experenciadas pelos corpos que integraram o órgão. Destacou as principais dimensões em que as experiências se distiguem. Frisou que embora os conselheiros façam avaliações positivas em relação à dimensão dos conselhos gerais é nas instituições com conselhos gerais mais pequenos e nas instituiões com conselhos gerais mais extensos que as avaliações são menos positivas. Mas observou que relativamente à composição as avaliações já não são tão positivas, pois cada um dos corpos presentes entende estar sub-representado no órgão. Referiu que a questão da transparência interna e externa em relação ao trabalho desenvolvido se constitui como uma das áreas de maior preocupação dos conselheiros, à qual se deve acrescentar a falta a debilidade de mecanismos de apoio ao trabalho desenvolvido pelos conselheiros. Finalizou referindo tendências de instrumentalização dos conselhos gerais, por via da constituição de listas, que acabam por viciar o processo de eleição do reitor e também do presidente do conselho geral.
António Cândido Oliveira destacou que a Lei (RJIES) é clara em relação à defesa do governo democrático das universidades, mas que os responsáveis fojem a esse repto claro que a lei transporta. A lei prevê um órgão eleito e faculta autonomia ao ponto de permitir ter consequências que, na prática, não se estão a verificar. O conselho geral deve ser encarado como um órgão deliberativo e fiscalizador do órgão executivo (o reitor e a sua equipa). Sendo um órgão com poder de eleger e de destituir tem de ter obrigatoriamente essa capacidade de deliberar e de fiscalizar. O exercício dessas funções deve ser feito num quadro democrático, o que implica responsabilidade e transparência. A responsabilidade do órgão executivo perante o órgão deliberativo e do conselho geral perante a academia e o exterior. O que tem faltado é prestação de contas e sobretudo prestação de contas que seja feita de uma forma transparente. Conclui enfatizando que, cumprindo-se a lei, estão criadas as condições para um bom governo das universidades. O problema está em as pessoas não levarem a sério as responsabilidades que têm no âmbito dos conselhos gerais.
Álvaro Laborinho Lúcio, presidente do conselho geral da Universidade do Minho, deu conta da sua experiência no órgão, procurando refletir sobre pontos que possam contribuir para se pensar e para se melhorar o funcionamento dos conselhos gerais. Equacionou a possibilidade de se olhar os conselhos gerais a partir do princípio da gestão democrática ou a partir da previsão legal estrita plasmada na lei. No exercício das suas funções, coloca-se a si próprio a interrogação sobre qual dos dois prismas é o mais adequado. Tendo em conta o que resulta do RJIES e o que resulta dos estatutos da universidade, visto serem os estatutos a definir claramente a dimensão estratégica do conselho geral, como se compaginam a dimensão estratégica, a amplitude das competências atribuídas ao conselho, a consciência da conjugação entre responsabilidade e democracia, com um órgão que, por força de lei, reúne ordinariamente 4 vezes por ano? E que não tem, além disso, no enquadramento da sua previsão institucional, gabinetes de apoio. Ou seja, quando se projeta o conteúdo do órgão dá-se dele uma dimensão, mas quando se concebe o seu modo de funcionamento não existem condições que abarquem essa dimensão. A isso podemos juntar o facto de nenhum dos membros do órgão dele fazer parte a tempo inteiro, não havendo sequer dispensa de serviço dos membros internos da academia. Daí resulta que o órgão tem atribuições e competências significativas, numa perspectiva de avaliação de princípios, mas que não tem qualquer condição na previsão legal para poder exercer essas competências. A questão que se coloca é como compaginar estas duas realidades, na medida em que, em princípio, deve haver alguma coerência lógica entre as competências que se preveem para o órgão e as suas condições de funcionamento. A perspectiva adotada no conselho geral da Universidade do Minho é de que as competências do conselho geral devem ser projetadas na dimensão estratégica e não na dimensão mais administrativo-legal de fiscalização do atos do reitor. Uma outra questão essencial, que tem a ver com a questão das competências, remete para as competências externas dos conselhos gerais. Ou seja, até que ponto os conselhos gerais são órgãos de vinculação de competências internalizadas, atuando obviamente para dentro da instituição, ou, diferentemente, até que ponto devem ser vistos como órgãos que atuam também para fora da instituição. Nesta matéria há perspetivas que se diferenciam. Na opinião do Juíz Conselheiro, as universidades não devem prescindir de órgãos com a composição do conselho geral para o debate externo e público das questões essenciais que envolvem a universidade e o ensino superior: Os conselhos gerais devem estar orientados para tomarem posição pública sobre o estado atual do ensino superior em Portugal; as questões do financiamento; as questões do abandono escolar, etc.
Lícinio Lima, conselheiro na Universidade do Minho, declarou partir de uma perspectiva crítica em relação ao RJIES, que encara como um regime que participa de uma perspectiva dominante nas políticas públicas a que se pode chamar nova gestão pública, gerencialismo, uma visão empreendedora da universidade. Nessa medida também não se vê como um defensor com grande entusiasmo dos conselhos gerais, embora constate que o conselho geral é permeado por tensões e formas híbridas interessantes. O modelo de governação seria muito mais congruente, homogéneo e com menos tensões se tivesse seguido as recomendações da OCDE de 2006 para Portugal. Como académico congratula-se que essas recomendações não tenham sido seguidas, mas observa inúmeras contradições. A arrepio das recomendações da OCDE, os reitores não são nomeados, a fundação pública de direito privado não é obrigatória, a maioria dos membros do conselho geral ainda não é externa, ainda é necessário respeitar as regras da contabilidade pública. Mas há muitas outras coisas que o legislador cumpriu, designadamente a perda do protagonismo dos professores, menos órgãos colegiais, o Senado passou a facultativo. Nessa medida, a visão empreendedora é bem evidente. E não é possível compreender os conselhos gerais sem compreender que a figura central deste modelo é o órgão reforçado, uninominal, reitor. O reitor adquire enormes poderes que, na Lei da autonomia de 1988 estavam distribuídos e sobretudo concentrados no senado universitário. O legislador verteu no RJIES a ideia que a colegialidade é o pior que há nas universidades e permitiu que a figura do reitor capturasse os poderes mais relevantes. Há tensões que são endémicas ao modelo e será interessante acompanhar como é que cada universidade, cada conselho, vai resolvendo essas tensões ou tentando encontrar escapatórias, ou se vai afundando nas contradições do modelo.
Rui Ramos, conselheiro da Universidade do Minho, pegou na questão do lançamento do debate, que perguntava se os conselhos gerais são necessários, para defender que a principal questão que se coloca é a dimensão da governança. Nesta medida, a questão que se coloca é a de saber se a forma de governar parte de um elemento superior, na perspectiva que esse elemento superior gere melhor, ou se esse elemento superior pretende gerir agentes e esses agentes é que vão definir a estratégia global que depende de alguém que coordene os trabalhos. A pergunta que foi feita para lançar o debate exige uma outra pergunta. Os conselhos gerais são ativos ou são passivos? Os conselhos gerais permitem às universidaes acrescentar valor ou são um custo? O legislador acabou por ser contraproducente, uma vez que no preâmbulo da Lei diz que o conselho geral é o órgão de topo e mais à frente diz que é quem define a estratégia. Pessoalmente, a satisfação que o conselheiro retira da sua experiência é poder analisar criticamente, em determinados momentos, ao longo do ano, o plano do reitor, a respetiva equipa, os planos anuais de desenvolvimento da universidade e o orçamento que vem a reboque do plano geral. De algum modo, vê-se como um elemento passivo que gera um custo (o tempo dispendido na discussão), concluindo que o seu trabalho não se reflete na alteração da atuação. O que está em causa não é o conselho geral mas o modelo de governação de gestão dos ativos da universidade. Há que perguntar até que ponto o conselho geral, mesmo reunindo o número de vezes que reúne, tem uma capacidade próativa, acrescentando valor. O RJIES foi pensado há 10 anos, estava previsto haver uma reflexão sobre o modelo, a dúvida que persiste é saber se essa reflexão deve partir de quem legislou (o parlamento), ou se deve partir de quem submeteu a proposta ao parlamento (o governo), ou se dentro do modelo de caos é mais fácil governar porque a tal governança não é governança.
Jorge Pedrosa, conselheiro da Universidade do Minho, centrou a sua intervenção sublinhando a importância da colegialidade do órgão e da importância de haver representantes dos corpos que estão presentes nesse órgão, com o seu interesse académico e com uma palavra ativa a dizer no governo das universidades, vendo, nesse sentido, vantagens no funcionamento dos conselhos gerais. Entende as dificuldades em perceber para onde vai evoluir o modelo de governação das universidades, mas no seu ponto de vista, enquanto académico, constata que existe uma situação muito diversa daquela que existia em Portugal há 20, 30 ou 40 anos. A dimensão das IES é completemante distinta. Há uma diversidade de tarefas que exigem algum nível de eficácia dentro da universidade. Por outro lado, há a questão da diversidade dentro da universidade. Em terceiro lugar há a questão da competição e do espaço aberto. A diversidade de experiências no modo como os conselhos gerais se organizam e funcionam mostra que o caminho está ainda a fazer-se e que temos de aprender com as boas e as más experiências. Partindo da sua experiência, que qualificou de positiva, centrou-se em 3 pontos críticos da gestão universitária. O primeiro remete para a relação do conselho geral, que é um órgão colegial e democrático, com o reitor, incluindo o modelo de eleição do reitor. A sua experiência como conselheiro revela que a tensão entre um órgão mais executivo (o reitor) e outro mais estratégico (o conselho geral) tem sido produtiva e que o relacionamento tem corrido bem. O segundo ponto crítico é o da agenda própria do conselho. O conselho geral da Universidade do Minho tem sido capaz de manter essa agenda. Mas essa agenda tem de ser mais exigente e tem de ser capaz de incluir pontos que não se restrinjam nem às obrigações estatutárias do reitor, nem tenham necessariamente a ver com as questões que são mais agradáveis ao reitor. O terceiro ponto reporta-se à ligação entre o conselho e a academia, relação que não é suficientemente boa na Universidade do Minho. O facto de os estudantes terem níveis de representatividade mais baixa é um problema que dificulta um maior reforço da ligação do conselho geral com a academia.
Artur Águas, membro do conselho geral da Universidade do Porto, identificou, na sua intervenção, o pecado original do ensino superior. Na sua perspectiva, a bonificação, de 2 a 4 valores, da nota de entrada no ensino superior - adquirida por via da possibilidade de algumas famílias poderem pagar formação adicional ou diferenciada nos anos que determinam a média de entrada no ensino superior – desvirtua a lógica do ensino superior. Enfatizou que, na sua esmagadora maioria, as instituições que bonificam a nota de entrada são colégios privados. Exemplificou referindo dados relativos à sua própria instituição e alertou para a necessidade de as universidades discutirem esta questão com os governos.
Pedro Oliveira, docente da Universidade do Porto, ex-conselheiro do CG da Universidade do Minho, salientou o facto de o livro lançado pelo NEDAL e pelo CES lhe permitir ter uma visão de conjunto que resulta na curiosidade de, sendo a lei a mesma, as experiências terem sido muito diferentes. Constatou que, dependendo a aplicação prática do regime dos agentes, o mais interessante é saber quem define realmente a missão pública das universidades. Estranha que se encare o conselho geral, na forma em que é constituído, como órgão responsável pela definição da missão pública, arredando praticamente a comunidade académica dessa função. Constatou que os mecanismos de eleição democrática estão em clara retração dentro da academia e que os critérios de cooptação estão orientados por princípios de instrumentalização voltados para a dimensão mercantil. Neste contexto, em que é evidente a degradação da vivência democrática, pouco ou nada se sabe sobre o que a comunidade académica pensa dos conselhos gerais.
O debate prosseguiu com intervenções breves dos presentes em torno das questões levantadas. Fernanda Ferreira, conselheira da Universidade do Minho, representante do pessoal não docente e não investigador, contrapôs a sua atual experiência com a anterior, enquanto membro do Senado, para dar conta da dificuldade em assegurar uma adequada representação do corpo nas atuais condições de representatividade (um só membro no conselho geral) e de exercício de funções (falta de mecanismos de apoio).